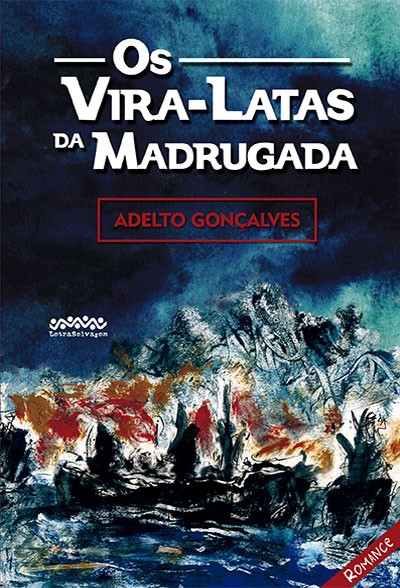I
Adelto Gonçalves não é nenhum iniciante. É jornalista, escritor, doutor em Letras, professor universitário e crítico literário, como consta de seu curriculum vitae, em feliz hora inserido no final desta segunda edição de Os vira-latas da madrugada, numa “Nota do Editor”, sob o título “Adelto Gonçalves e sua obra” (p. 209-215). Entre as dezenas de títulos por ele publicados – livros, capítulos de livros, artigos dos mais diversos, resenhas sem conta –, Os vira-latas da madrugada é a sua primeira ficção, embora seu livro de estréia na literatura tenha sido a coletânea de contos Mariela morta (1977).
Os vira-latas da madrugada conheceu uma trajetória movimentada. Aos dezenove anos de idade, Adelto Gonçalves tinha o texto pronto. Reescrito entre 1977 e 78, isto é, quando contava 26, 27 anos, o jovem autor candidatou-se ao Prêmio José Lins do Rego, concurso de amplitude nacional, promovido pela reputada Livraria José Olympio Editora, do Rio de Janeiro. Foi classificado com uma menção honrosa, o que lhe valeu a publicação do romance em 1981. O livro constou em décimo lugar entre a centena de obras alistadas pelo jornalista e professor Marcos Faerman para estudantes de uma tradicional faculdade de Jornalismo e que obrigatoriamente deveriam ser lidas.
O prefácio, escrito por Marcos Faerman, foi censurado pela ditadura na época, não constando nessa primeira edição, tendo sido no mesmo ano em parte divulgado pela mídia independente como “trechos de um prefácio censurado, sobre tempos nubulosos”, como podemos ler à página 214 da segunda edição, de 2015, da editora LetraSelvagem, de Taubaté, São Paulo. Aí é finalmente publicado esse primeiro prefácio por inteiro (p.7-10), além de um posfácio, de Maria Angélica Guimarães Lopes (p. 205-208), texto publicado na Revista Iberoamericana, do Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, da Universidade de Pittsburg, EUA, jan-jun.1985, nº 130-131, p. 392-394, e republicado nesta presente edição.
A época em que os acontecimentos do romance decorrem não é difícil de ser intuída: o Brasil do século XX. Como consta da “orelha” do livro: “rememorações da época do tenentismo da Coluna Prestes” que “passam pela época Vargas e chegam até o período pré-golpe de 1964”. E como o próprio narrador revela: “Eu era muito pequeno, quando algumas destas histórias aconteceram” (p. 48).
II
A temática e a condução da trama elegidas por Adelto Gonçalves caíram no desagrado dos censores da ditadura militar brasileira e Os vira-latas da madrugada foi uma das obras por eles visadas. Daí, inclusive, o mérito desta segunda edição, reabilitando e recuperando um romance que constitui um libelo contra a exclusão social, uma crítica ao desrespeito pela liberdade e uma denúncia do abandono em que vivia a população humilde da região portuária da cidade de Santos – e não só.
Os vira-latas da madrugada é o décimo terceiro volume da coleção “Gente Pobre” da editora LetraSelvagem. O feliz título é uma metáfora que vem ampliar e enriquecer a já extensa lista de designações para a “gente pobre”, aqueles que alicerçam a base da pirâmide social, os menos ou nada bafejados pela sorte, a “massa marginal dos esquecidos”, os subalternos, os “pobres diabos” (p. 45), aqueles que o filósofo Enrique Dussel chamou de seres sobrantes, descartados pela ética excludente e utilitarista do desenvolvimento capitalista.
Este livro é o retrato de uma sociedade excluída, vegetando à margem das funções relevantes do conjunto social de uma das cidades mais importantes do país. Apraz-me lembrar que o pensador e teórico alemão Niklas Luhmann, ao visitar o Brasil, viu-se confrontado com a marginalidade e desumanidade da vida nas favelas dos grandes centros urbanos. O que contribuiu para ele repensar a sua abstrata concepção estruturalista dos sistemas sociais (Soziologische Systemtheorie).
Verificando que grandes contingentes da população que ocupa as periferias ou centros decadentes – indivíduos reais e em toda a sua complexidade de seres humanos – não pareciam ter nenhuma relevância funcional nem nenhum retorno dentro do sistema social em seu conjunto, embora a ele pertencendo e nele vivendo, mesmo que de forma indigna e sem direitos próprios (cf. Niklas Luhmann, no primeiro volume da sua Die Gesellschaft der Gesellschaft, 1997, p. 618-634; publicado no México, na tradução de Xavier Torres Nafarrate, 2007). Luhmann, a partir dessa vivência, ampliou com elementos concretos, “reais”, sua reflexão sociológica e teórica do que é considerado marginal, precisando os conceitos de inclusão e exclusão como instrumentos de análise estrutural do sistema social.
Uma abordagem de qualquer aspecto da pobreza merece passar também pelo crivo da reflexão sobre o colonialismo e suas consequências, levando em conta a afirmação de Homi Bhabha que a pós-colonialidade “é um salutar lembrete das relações ‘neocoloniais’ remanescentes no interior da ‘nova’ ordem mundial e da divisão de trabalho multinacional” (Bhabha, O local da cultura, 1998, p. 26). Adelto Gonçalves procede em seu romance à “autenticação de histórias de exploração”, para de novo citar Bhabha, evidenciando ao longo dos capítulos como suas personagens desenvolvem as mais diversas “estratégias de resistência” (ib.).
Não é possível deixar de ter em conta os muitos e diferentes processos e estágios de dependência e de marginalização dos países ex-colonizados, dos quais o Brasil faz parte e, nesse contexto, ressaltar as assimetrias existentes, por exemplo, entre a cidade e o campo, entre os centros urbanos e as periferias, entre os subalternos (Gayatri Spivac) e os donos do poder (Raymundo Faoro).
O conceito de subalterno foi divulgado, de forma polêmica, por Gayatri Spivak, teórica da literatura indiana, docente nos Estados Unidos. Em seus ensaios, ela insiste em uma revisão crítica da representação do “terceiro mundo”, pondo em relevo, entre outras análises, a clara discrepância existente, nos países ex-colonizados, entre as elites e a massa subalterna. “Subalterno” é o marginalizado, o silenciado, o ignorado, o sem voz, o sem direitos. Seu provocante ensaio “Can the Subaltern Speak?” (1988), onde Gayatri Spivak põe em dúvida a possibilidade de que essa situação de marginalidade e de afasia possa ser de fato ultrapassada, continua atual.
III
O narrador onisciente de Os vira-latas da madrugada esclarece não se tratar de uma réplica do histórico: “Longe disso”. Nem teve “intenção de transformar esses personagens em figuras épicas”. Desejou apenas “recolher histórias e inventar outras”. Histórias “do tempo em que os trabalhadores do cais ainda saíam aos gritos pelas ruas e os malandros, os moleques e as putas faziam do lugar um refúgio em sua luta pela sobrevivência” (p. 45). O autor adota uma posição compartilhante e solidária, mas ao mesmo tempo crítica e denunciadora, expondo sem condescendência, na representação literária, a realidade desse submundo, deixando claro o lugar de onde fala: “Aqui onde os moleques, vira-latas da madrugada, percorrem a noite inteira em busca de um otário, roubam os bêbados caídos nas calçadas, dormem com os pederastas e vivem de pequenos furtos; onde a piranha malandrinha ensaia um abraço casual na rua ao comerciário despreocupado e lhe leva a carteira […]” (p. 47/48).
A cidade de Santos, ou melhor, a região portuária de Santos, o “beira-cais”, funciona em Os vira-latas da madrugada como uma metonímia para a geral situação de carência das periferias das grandes cidades do país. É importante levar em consideração o lugar de fala do narrador onisciente que desenha um painel suburbano em forma de mosaico, em que cada pedra tem seu colorido particular e sua forma específica, fragmentos de vidas não mais anônimas, pois recebem nome, voz e individualidade graças à escrita de Adelto Gonçalves.
Não se trata apenas de um rótulo para uma lista de estereótipos: o vagabundo, a prostituta, o revolucionário, o biscateiro, o desempregado. Trata-se de personagens vivas que vão povoar o romance, uma imensa galeria, numa pluralidade de existências e de estratégias de sobrevivência, nomeadas e cuidadosamente descritas, vidas e rostos quase todos já esboçados desde o primeiro capítulo: o moleque Pingola; Marambaia, o velho marítimo e foguista aposentado; seu amigo Quirino, “embarcadiço” e mulherengo, ambos politizados e inconformados; o vagabundo Plínio; as prostitutas Naná, Rosa, Sula; a bailarina Irene; Madame Sílvia, dona do bordel mais importante do local; o velho entalhador João de Angola; Teodorico, o louco, entre muitos outros.
IV
O autor maneja com habilidade a narração das diferentes histórias de vida, utilizando uma dicção áspera e sem peias, apropriada à crueza e à fealdade do triste ambiente em que essas vozes se alternam, exibindo a dureza da realidade que as cerca. Ao longo dos capítulos, cada vez uma personagem tem espaço bastante para que sua história individual se apresente, mas é digno de nota a perícia do romancista ao utilizar com frequência o recurso das narrativas encaixadas, recurso estilístico conhecido como mise en abîme, procedimento que consiste justamente em incrustar uma história dentro de uma outra, não permitindo aos leitores perderem-se no emaranhado daquelas vidas entrecruzadas, unidas pelo denominador comum da exclusão.
Michael Pollak, sociólogo austríaco radicado na França, criou a expressão “memórias subterrâneas” (POLLAK, Memória e identidade social, 1989) para definir as memórias que são abafadas pela memória oficial nacional, entendendo como “subterrâneas” as lembranças dos despossuídos e das minorias. O analista parte da observação das memórias oficiais e do reconhecimento da violência que advém dessa escolha unilateral, em detrimento de outras recordações que são postas em escanteio, mas nem por isso estão mortas, e sim apenas imersas em “subterrânea” invisibilidade.
Um dos principais méritos de Os vira-latas da madrugada é justamente esse trabalho de reconstrução de individualidades ignoradas ou silenciadas. Pois há um interrelacionamento significativo entre o silenciado, a memória e o esquecimento: através do instrumento do silenciamento, emudece-se a memória do subalterno, procura-se fazer esquecer a narração do status quo vergonhoso ligado à subserviência ou à exclusão aviltante. O silêncio boicota movimentos que tentam recuperar memórias sufocadas, incômodas, provocando o encobrimento do Outro, como afirmou Enrique Dussel. Muitas formas de dizer o dito mascaram o não dito, motivam distorções, estereótipos, camuflam os conflitos entre os senhores da “Casa Grande” e os que lutam pela sua visibilidade social.
O posicionamento do autor de Os vira-latas da madrugada não é inocente. Adelto Gonçalves aponta sem subterfúgios a procedência dos problemas que estorvam a consolidação de uma sociedade que se quer equitativa e equilibrada, problemas (e esperanças) que prosseguem presentes na atualidade. Dá às suas personagens espaço e direito de sonharem. Serve-se do referencial histórico de um largo período da história do Brasil, por ele mesmo vivenciado desde a infância até a idade adulta, para acusar o abandono das periferias, a sorte dos despossuídos, dos seres sobrantes. Adelto Gonçalves traça, de forma instigante e literariamente bem sucedida, a representação simbólica de uma específica comunidade de destino, de história e de luta. No momento político que o país atravessava, um livro como Os vira-latas da madrugada representou e continua representando uma relevante contribuição para a conservação da memória de fatos ocorridos.
Transparece pelo tecido literário de Os vira-latas da madrugada a onipresença da sofrida história de opressão interligada a práticas de resistência, nem sempre bem sucedidas. A solidariedade do autor para com os subalternos é convincente, assim como sua empatia pelos marginalizados ou socialmente desfavorecidos. A repulsa ao status quo vigente é conduzida com elegância, resultando em denúncia contra os abusos do poder e dos desacertos da então situação política do país. É arrojada e corajosa a exposição, nos capítulos finais, do apodrecimento dos frutos abortados de um legítimo sonho.
É essa postura e essa coragem que levam um autor já na sua juventude a uma tomada de posição concretizada no livro que escreveu mal saído da adolescência. Vale lembrar as palavras finais de Os vira-latas da madrugada:
“As vozes que me trouxeram até aqui já não as ouço mais. Estão mortas, estão assassinadas. Este irregular relato é só uma homenagem a essas vozes que se calaram cansadas de testemunhar tanta ignorância e violência em nome de valores morais que a ambição já desmoralizou há muito tempo” (p. 203).
_________________________
Os Vira-latas da Madrugada, de Adelto Gonçalves, com prefácio de Marcos Faerman, apresentação de Ademir Demarchi, posfácio de Maria Angélica Guimarães Lopes e ilustrações e capa de Enio Squeff. Taubaté-SP: Associação Cultural LetraSelvagem, 216 págs., 2015, R$ 35,00. E-mail: letraselvagem@letraselvagem.com.br Site: www.letraselvagem.com.br
___________________________
(*) Moema Parente Augel é doutora em Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora da Universität Bielefeld, Alemanha.